Nuno Costa Santos
[N. Lisboa,
10.9.1974] De uma família açoriana foi criado em S. Miguel. Frequentou a
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde dirigiu a revista Inventio.
É escritor e argumentista. Publicou, entre
outros, os livros Dez Regressos e Os Dias Não Estão para Isso. Trabalhou
em jornais, na rádio e na televisão e é associado das Produções Fictícias. Teve
um programa no canal Q intitulado Melancómico. Escreveu o texto da peça É Preciso Ir Ver – uma Viagem com Jacques
Brel e a biografia Trabalhos e
Paixões de Fernando Assis Pacheco. Colabora regularmente com a revista Ler e com a Sábado e tem um programa na Vodafone FM. Dá, regularmente, aulas de
escrita criativa. Dirige a revista transeatlântico (número zero: setembro
de 2014)
Adaptado de http://www.culturacores.azores.gov.pt/ e Azorean
Spirit – SATA Magazine n.º 72, fevereiro-abril
2016
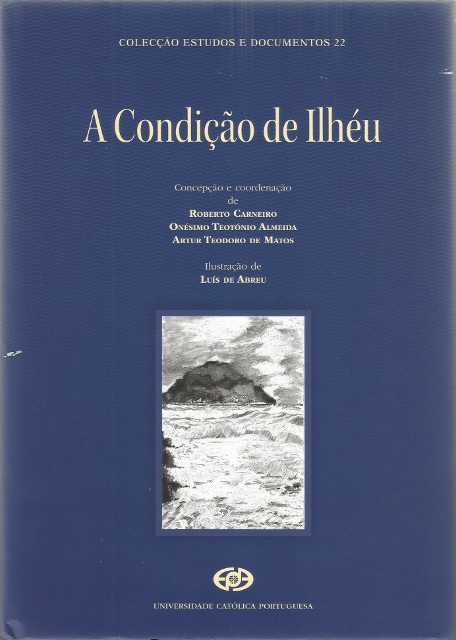
Todos ilhéus
Ao
me saberem açoriano, diversos continentais perguntam: "Nunca te fez confusão
viver numa ilha?". Mesmo muitos dos que se encantam com as paisagens e o
acolhimento, contam-me de um ocasional sentimento de claustrofobia, confessam
que por vezes se sentem agoniados por estarem rodeados de mar, por não poderem
atravessar fronteiras terrestres, fugir para outra banda, dar uma volta de carro
até ao país do lado.
Respondo
que não. Que nunca tive esse sentimento quando vivia a tempo inteiro na ilha de
São Miguel nem o tenho sempre que regresso a casa e por lá fico, em trabalho ou
em férias. Que nunca pensei: "Vivo numa ilha, estou tramado". Revelo
até um escândalo: durante o meu crescimento nunca pensei que vivia numa ilha.
Nunca reflecti sobre o assunto, muito menos acompanhado de bibliografia.
Nunca
passei um minuto a matutar nas questões do "mar por todos os lados", do
"isolamento", da "solidão", da "limitação".
Estava demasiado preenchido. A ilha era a minha terra, onde tinha vivências contraditórias,
umas alegres, outras não, como acontece em qualquer lugar do mundo.
Nem
na fase das inquietudes habituais quis levantar voo para território distante.
Na adolescência nunca senti o desejo urgente de me ir embora. Viajar para o continente
e aí viver era apenas o percurso normal de quem havia terminado o liceu e queria
prosseguir os estudos. Não passei tardes no quarto a fantasiar com a vida lisboeta
e não fui para cima de uma rocha como um poeta romântico a imaginar os mundos "cosmopolitas"
para lá do horizonte. Era feliz onde estava - tanto quanto pode ser feliz um adolescente.
Com a sorte de ter uma família, um grupo de amigos, namoradas, uma vida
cultural feita de muitos discos, livros e filmes que nos chegavam de fora com a
velocidade certa, de beber fininhos bem tirados em cervejarias onde se falava,
se debatia e se asneirava. A ilha nunca teve qualquer dramatismo, esse tipo de dramatismo
de quem a vê de fora, mesmo quando está dentro.
A
ideia de que o ilhéu é um ser prisioneiro entre vagas e de que quer sempre ir
mais além do que o espaço que habita é um cliché que convém mais a uma poesia gasta
da vivência insular do que à realidade quotidiana. Claro que não me refiro ao sonho
emigrante que muitos açorianos tiveram em alturas de dificuldades extremas.
Penso naqueles que têm condições materiais mínimas e alcançaram à sua maneira
uma posição de conforto e de pertença a uma comunidade com virtudes e naturais
defeitos. Muitos deles, claro, associados ao desporto federado de comentar a
vida dos outros.
É
curioso perceber que muitos dos visitantes que partilham este sentimento
repentino de estarem encerrados no meio do Atlântico, quando voltam ao ninho, pouco
saem dos seus circuitos habituais. Pouco saem do seu roteiro, seja pessoal ou profissional.
Não visitam bairros alheios. Não conhecem o nome das avenidas, das ruas, das
freguesias da sua cidade. Vivem em ilhas ainda mais pequenas do que as ilhas
onde por instantes se sentiram prisioneiros. Vai-se a ver e somos todos ilhéus.
Pensem nisso.
Crónica de Nuno
Costa Santos in Azorean
Spirit – SATA Magazine n.º 72,
fevereiro-abril 2016



Sem comentários:
Enviar um comentário