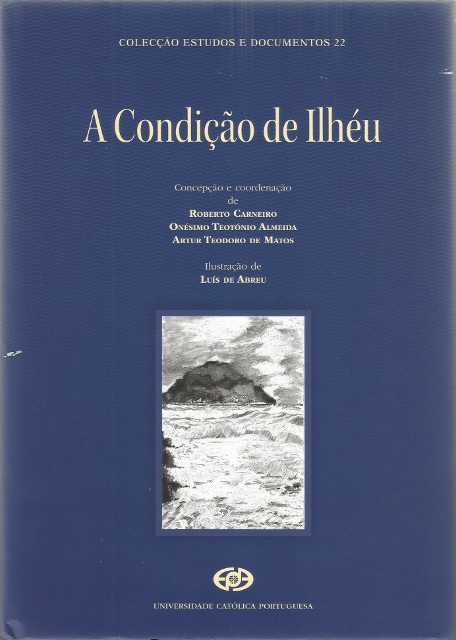oh que beleza sem gramática, que ferocíssimo esplendor:
rosa encarnada pelo ar acima
que é funda curva absurda,
rosa ascendida acesa desde a terra desmanchada,
escrita sobre o papel estrito
— e que o papel arda
que a extrema flor do cacto suba entre folhas espessas e coroas de espinhos,
mas que seja enfim mais peremptória ainda
a rosa irreversível
Herberto Helder, Letra Aberta
*
para desordenar um poema escrito
não tenho mais que o desejo de tocar-te
ó coisa inúmera que entretanto
além de tocar
conto e reconto
continuadamente
fome de dizer como nunca foi
acontecido
fora do seu desejo mesmo tu
ó tão funda tão fundada
substância do mundo:
pleno cheio
serias sobretudo
como um voo ou como um ovo
Herberto Helder, Letra Aberta
*
morre-se todos os dias
e enquanto se morre pede-se uma esmola para matar a fome de outra vida,
e dão-nos pelo amor de Deus uma pequena moeda de nenhum país,
e não há ranhura onde a moeda entre, nem a ranhura de uma velha caixa de música, e no entanto estremeço
e falta-me o ar, sim sim
arrebatavam-me as músicas de J.S. Bach
no silêncio das naves através da catedral inteira,
vozes e vozes dos rapazes castrados
e de repente um baixo monstruoso,
e isto se Deus existisse mesmo, punhal fundo no músculo coração,
e depois quente chôro pela cara abaixo
- oh porque me abandonaste?
mas na verdade ninguém me abandonara
Herberto Helder, Letra Aberta. Porto, Porto Editora, 201
*
fico tão feliz quando vejo como os golfinhos são inteligentes
tão subtis no súbito entendimento das intenções segundas que temos em relação a eles
se lhes dessem a ler bons poemas maior proveito teriam aqueles que os escrevem
do que têem com A ou B
eu cá por mim estou certo que nenhum golfinho diria
a propósito da morte de Deus e da glória do poema onde morre
as palavras turvas que me transmitiram algumas bocas maometanas
uma dessas bocas foi a mesma que disse viva o profeta!
quando decretaram a morte de Salman Rushdie
por causa dos Poemas Satânicos
parecia Lisboa nas trevas católicas
mas não ele felizmente não estava à mão de matar
até aproveitou a confusão e mudou de mulher
e na Dinamarca para aquecer um pouco
a malta gozava fazendo caricaturas sacrílegas dos ayatolas
mais um pouco e salvava-se o mundo
Herberto Helder, Poemas Canhotos
*
sempre se enganam em qualquer coisa enganam-se
no tempo que pouco têm para morrer —
de tal maneira se enganam nas palavras que se enganam
na cabeça que têm
que a têm pouca —
e por isso quando metem os dedos na matéria
vê-se que a matéria não estava madura ainda —
que pressa é essa? é a de já lhes fugir janeiro e estarem ainda
em setembro ou outubro —
de que lhes valem as flores da época se trocam
rosas por margaridas silvestres?
de tal maneira os aromas nas narinas dos búfalos
e as borboletas de prata pousam
apenas em nomes vagos não em corolas ferozes
nas primaveras com grandes espaços entre palavras —
mas que procuram eles? nomes?
apenas nomes entre tantos desastres?
eu não sei, eu tremo de dor apenas
perante os nomes não vistos e aspirados tanto que apeteça
morrer por um nome ou dois ou três
juntos, exactos, repetidos,
como exactamente em pleno transe louco
entre as flores dos nomes como:
dicionário folha atrás de folha,
e mesmo assim é como uma espécie de medo,
com um tremor no fundo da nossa idade
que vamos ver onde estão as pessoas que fugiram
da nossa vida, e quando foi que lhes tocámos,
ou na camisa ou no cabelo ou ao acaso nos dedos,
e que nomes eram os nomes deles entre
todos os nomes da terra,
e quando foi: se foi na descoberta
ou nos fins dos meses ou
a meio de uma tarefa leve como pentear-se,
ou ressuscitar em plena luz pela
primeira vez
ou pela última vez, logo antes de sair das trevas
para as grandes danças entre o ar e a água,
sai agora: e corta o cordão,
e entre sangue, olhos fechados, abre a boca toda,
e respira muito quase até cair bêbedo ou louco
pela voz: o nome e sobretudo nome a nome
cada coisa em torno até que o alcance
a ciência dos nomes todos,
coisa a coisa da terra afinal tão pequena
que mesmo ele a domina,
no domínio dos nomes,
e então suspende tudo com medo que ali acabe com um só nome
o múltiplo mundo matricial,
o mundo das mães loucas
Herberto Helder, Poemas Canhotos, Porto, Porto Editora, 2015
CRÍTICA
Os poemas descontínuos
O livro póstumo de Herberto Helder coloca questões que a sua poesia nunca tinha colocado, ao avançar por caminhos do exercício em tom menor
O livro é breve — 16 poemas, dois dos quais são dísticos — e o título serve de advertência: o leitor, ainda antes de começar a ler, deverá saber que o autor considerou estes poemas não destros, canhestros, desajeitados, e entende que isso terá de ser um pressuposto da sua leitura. É certo que uma tal classificação não evita uma ambiguidade fundamental, à semelhança do que acontece nos pedidos de indulgência dirigidos ao auditório, na retórica clássica : mesmo canhotos, o autor quis que eles fossem publicados e até considerou que o livro estava pronto (esta é, pelo menos, a versão oficial da editora e não há nenhuma razão para suspeitarmos dela). Mas a nomeação destes poemas como “canhotos” obriga-nos a um esforçado exercício de sintonização. Na verdade, a questão da destreza e do seu contrário, remetendo para a dimensão técnico-formal, nunca tinha sido uma questão que a poesia de Herberto Helder nos tivesse obrigado a considerar. Mais do que isso: a palavra poética herbertiana aproximou-se muitas vezes daquela condição de “contra-palavra” de que Celan fala no Meridiano, uma palavra que não se inclina perante “os cavalos de parada” e está para além de todas as maquinações da poesia bem-comportada. Herberto Helder não é um poeta estranho à problemática do métier por ser um intuitivo, como são aqueles que parecem confiar numa espécie de avatar moderno da musa (aproveitando o facto de a noção de métier, em poesia, ter sofrido um grande descrédito), mas porque se elevou a um absolutismo poético.
Ora, alguns dos poemas deste livro oferecem-se como exercícios onde a questão da mestria se iria sempre colocar mesmo que não fosse explicitada, num gesto auto-reflexivo, no interior do próprio poema, como é o caso daquele que abre o livro, um poema em redondilha maior. Começa assim: “coisa amada nas montanhas/ amador ao rés das águas/ por mais que subam as águas/ e arrebatem as montanhas/ e as engulam inteiras/ haverá coroas de pedras/ sustentadas pela espuma”. E, mais à frente, alude-se à regra formal do poema: “coisa amada nas montanhas/ amador ao rés das águas/ a redondilha maior/ é menor que a sua história/ mas maior que tudo isso/ é a dor que o amor transporta”. Há aqui uma óbvia dimensão lúdica, um jogo desencantado e nada jubilante, mas que não deixa por isso de ser um jogo. E no último poema essa característica é ainda mais notória, já que se trata de um poema cheio de rimas em “ão” (muitas delas, internas), que é a mais desqualificada das rimas, na poesia em língua portuguesa, porque é de uma grande facilidade. A isso alude o fim do poema, apontando o dedo a si mesmo: “estes poemas que avançam/ no meio da escuridão/ até não serem mais nada/ que lápis papel e mão/ e esta tremenda atenção/ este nada/ uma cegueira que apaga/ a luz por trás de outra mão/ tudo o que acende e me apaga/ alumiação de mais nada/ que a mão parada/ alumiação então/ de que esta mão me conduz/ por descaminhos de luz/ ao centro da escuridão/ que é fácil a rima em ão/ difícil é ver se a luz/ rima ou não rima com a mão”. Quem imaginaria, há alguns anos (até, pelo menos, A Faca não Corta o Fogo, de 2008) que o último poema de Herberto Helder, deixado à posteridade, seria um poema “canhoto” com rima em “ão”?
Como se perceberá, este livro não é apenas estranho à ideia de “poema contínuo” (como o anterior, A Morte sem Mestre, de 2014, já o era, de outra maneira), é também a afirmação de uma descontinuidade em relação à obra que Herberto Helder foi construindo como uma súmula. É como se o poeta quisesse agora mostrar-se na imperfeição, destituído de toda a apoteose. Assim começa um outro poema deste livro: “em boa verdade houve tempo em que tive uma ou duas artes poéticas,/ agora não tenho nada:/ sento-me, abro um caderno, pego numa esferográfica e traço meia dúzia de linhas:/ às vezes apenas duas ou três linhas;/ outras, vinte ou trinta:/ houve momentos em que fui apanhado neste jogo e cheguei/ a encher umas quantas páginas do caderno/ aconteceu também por vezes que o papel pareceu estremecer,/ mas o mundo, não: nunca senti que o mundo estremecesse/ sob as minhas palavras escritas”. É esta condição de poeta diminuído, canhoto, que já não consegue fazer estremecer o mundo, que se diz nestes poemas. A tragédia, agora, é a pura ausência de trágico, a do poeta que só já pode entregar-se ao jogo da poesia, não como aquela “ocupação mais inocente de todas”, como reclamava Hölderlin numa carta à mãe, mas como a ocupação mais paradoxal de todas: aquela que permite evocar antigas grandezas através de exercícios “canhotos”. É certo que há momentos neste livro que nos fazem aceder a um reconhecível Herberto Helder. Mas, no essencial, ele situa-se noutro espaço diferente, diferente até de A Morte Sem Mestre, na medida em que uma atitude reactiva estendeu-se agora a outros domínios. Este livro reclama do leitor que ele esteja sintonizado num tom mais baixo do que aquele a que Herberto Helder nos habituou.
https://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/os-poemas-descontinuos-1696289
*
Herberto Helder: um poema é um poema?
Poemas Canhotos de Herberto Helder são poemas sobre o que é um livro de poemas; e são ainda um exercício sobre aquilo que não sabemos se tem autor. Uma recensão de Djaimilia Pereira de Almeida.
É possível extrair de Poemas Canhotos um “ensino” (34) sobre o que pode ser
um poema e sobre a sua aparição a quem o escreve ou o lê — e, central ao esboço
de qualquer princípio de autoria, uma indagação sobre o que julgamos saber
acerca dos poetas que lemos. Tal “ensino” não chega a constituir uma arte
poética, nem respeita à maneira de Herberto, mas ao que significa existir
enquanto autor ao longo de uma vida, vocação perante a qual um livro póstumo
poderia parecer apenas a coda possível.
O poema final diz-nos que o que se
escreve pode apenas aparentar a dignidade de uma autoria: “estes poemas que
chegam / do meio da escuridão / de que ficamos incertos / se têem autor ou não
/ poemas às vezes perto / da nossa própria razão / que nos podem fazer ver / o
dentro da nossa morte / as forças fora de nós / e a matéria da voz” (42). Será
que isto é mesmo um poema? Será que é um poema meu? — são as perguntas centrais
de Poemas Canhotos. Talvez estes “poemas que avançam”, de que não fica mais que
“lápis papel e mão / e esta tremenda atenção / este nada” (43), mereçam uma
“faminta ciência da paciência” (21). Apesar da incerteza quanto à autoria de
poemas assinados por si, é em relação a esta reserva de paciência que se pode
localizar a qualidade deste livro quando contrastada com o Herberto Helder de
livros anteriores. Tal estranheza parece ser, no entanto, a que estes poemas
lhe suscitaram, antes de ser a que suscitam aos seus leitores.
Podemos abandonar os nossos hábitos
quotidianos, despedir-nos dos que partiram, não podendo porém impedir-nos dos nossos
humores para com os trabalhos que a despedida de tudo nos merece
(abandonar até aquilo que sai da mão, mas não a mão, o rosto que barbear, o
próprio corpo morrendo noutro), pois não está em aberto rejeitarmos o que não
passa no teste de saber quanto do que escrevemos nos pertence, muito menos
rejeitar o trabalho que nos coube, e ao qual as nossas interjeições pouco
acrescentam: “que interessa fazer a barba se é tudo para cremar, / desde as
unhas dos pés aos espelhos soberanos —” (16), lê-se em versos sobre o conflito
entre os actos e os humores da despedida.
Perceber a cada poema se o que se
escreve é um poema nosso, se é um poema de todo, é aquilo de que não existe
fuga possível, como não existe modo de escapar de, tão à beira do fim,
fantasiar sobre deixar de escrever, como no jovial devaneio sobre deixar de
escrever do poema da página 20 (“escrever, / deixar de escrever, / escrever ou
não escrever não é acabar assim tão depressa quanto se pensava”). À beira do
fim, apenas se parece saber quão à beira da renúncia sempre se esteve. Estes
são, nesta medida, poemas sobre o que é um livro de poemas; e são ainda um
exercício sobre aquilo que não sabemos se tem autor.
É por esta razão que o último poema
de Poemas Canhotos ([estes poemas que chegam]) — e, não
exagerando, o próprio livro — ganha em ser lido como um poema sobre o que temos
diante de nós ao abrirmos um livro, o que nos deixa em suspenso quanto a
sabermos se o que nos é dado a ler em Poemas Canhotos foi
ou não tomado à “escuridão”. Poderíamos, mudando Gertrude Stein (“a rose is a
rose is a rose et coetera”, 21), arriscar que ‘um poema não é um
poema não é um poema’ — nem sequer, sem explicações adicionais, um poema da
autoria de quem o redige. Muito menos certo é então que Poemas Canhotos, ou qualquer outro livro de poemas,
pertença seja a quem for.
É, no entanto, ainda a um nome civil
que parecemos poder imputar algumas paixões e humores de Poemas Canhotos: o “amador ao rés das águas” (7); o
que desistiu de artes poéticas (“em boa verdade houve tempo em que tive / uma
ou duas artes poéticas, / agora não tenho nada: / sento-me, abro um caderno,
pego numa esferográfica / e traço meia dúzia de linhas”, 18); o de “adjectivos
longínquos, / tudo tão prodigioso que se não entende nada” (21) — tudo isto nos
lembra o que julgávamos saber sobre Herberto Helder; o mesmo que presumimos ter
conhecido Ramos Rosa, cuja morte é evocada na página 39: “e então morreu todo /
fundo e completo de uma só vez” (39); o que se exaspera com versos de outros
(“esfolo-te vivo, vadio, se me trazes outra vez versos desses”, 13) — o que
julgamos ter lido ao longo de décadas.
A publicação destes últimos poemas
sob o nome de Herberto Helder não coincide com a resolução da ambivalência
entre a voz incerta e o relativo consenso quanto a esse nome, muito menos com a
confirmação, por parte de quem o assina, de que o que gerou lhe pertence.
Talvez até um último livro se possa publicar mantendo esta dúvida em aberto.
Mas então quanto do que se publica em Poemas Canhotos são
poemas, e porque não?, poemas de Herberto? Este livro póstumo aclara a forma
como ler seja que livro for pode não ser uma via evidente de resposta a esta
pergunta, por mais que teimemos em procurar os seus autores no que publicam, e
nos seus últimos livros para lá de em todos os outros, cotejá-los com o seu
passado, com um hábito que apenas a nós nos pertence.
Esperarmos que Poemas Canhotos seja o último livro do poeta
conhecido por Herberto Helder é talvez uma limitação nossa. Por outras
palavras, esperamos (possivelmente em vão) que o que lemos seja o que lhe
pareceu pertencer-lhe. Tal não passa porém de um modo de desejarmos que nos
pertença o que dele tenha restado, que Herberto Helder nos pertença. O que nos
traz de volta às perplexidades suscitadas por este livro: como saber, diante de Poemas Canhotos, ou de qualquer livro de Herberto
(ou de qualquer outro poeta), que estamos realmente perante poemas? Como se
sabe, antes de sabermos o que significa um poema ser de alguém, se esses poemas
são de alguém?
Djaimilia Pereira de Almeida
(Luanda, 1982) estudou Teoria da Literatura na Universidade de
Lisboa. Fundou e dirige a revista on-line “Forma de Vida”.
http://observador.pt/2015/05/29/herberto-helder-um-poema-e-um-poema/
A moeda inútil
Um ano após a morte de Herberto Helder, o novo livro póstumo reacende
a discussão sobre o "tom menor" do seu
estilo tardio
Os últimos livros de Herberto Helder suscitaram uma atenção
e uma controvérsia inusitadas, tendo em conta a "obscuridade" biográfica
e textual que o poeta sempre prezou. A uma visibilidade quase inédita, com as fotografias
e o disco e o fac-símile dos manuscritos, somou-se a troca de chancela e a
política de edições únicas que fez de "Servidões" (2013) um objecto cobiçado.
Mas esse título, tal como "A Morte sem Mestre" (2014) e o póstumo "Poemas
Canhotos" (2015), marcou sobretudo uma mudança significativa no discurso
do poeta, que se tornou mais referencial, mais coloquial, claramente "testamentário".
Herberto morreu fez agora um ano, e "Letra Aberta" manterá acesa a
discussão sobre esse estilo tardio, matéria que, diga-se, interessa bastante
mais do que as circunstâncias editoriais e mediáticas. O novo volume reúne 33
poemas inéditos, escolhidos por Olga Lima, viúva do poeta. Ou seja, não se
trata de uma sequência estruturada, mas de uma antologia de textos do espólio.
E o que se pode dizer é que encontramos um Herberto no mesmo "tom menor"
das últimas colectâneas. "Tom menor" não supõe a menoridade dos
poemas, mas um registo mais imediato e desabrido, distante do fôlego lírico-
hermético que nos fascinava e assustava.
Quando, num destes poemas, Herberto sugere que "razões
nenhumas" é preferível a "uma Fac-simile da versão manuscrita de um poema
do Livro póstumo de Herberto Helder grande razão surrealista", define uma
poesia em chave irónica, sem aura, por vezes zangada, o tal estilo da última
fase que se sucedeu a décadas de poesia órfica, mágica, romântico-experimental.
A "grande razão" alude igualmente a um poema de Cesariny, e a uma suspeita
de grandeza que todo o surrealismo tinha, grandeza que se vê aqui substituída
por uns quantos "poemas bárbaros". É uma lucidez disfórica, própria
da velhice, talvez. Porque este é um punhado de poemas finais, "uns poemas
que pràqui tenho", diz o poeta, como se fossem coisa pouca, embora também
não caia no excesso de modéstia: ''Acho que apesar de tudo escrevi um poema
aceitável", "umas poucas linhas como estela e como exemplo".
Herberto não atira à água os seus livros, como o Próspero de ''A Tempestade",
mas não é órfico nem experimental como outrora. É o que é, e os outros que se
danem: "Bom é ser odiado simetricamente por gregos e troianos."
"Letra Aberta" reconhece-se como um texto
herbertiano, com as imagens fortes e os superlativos e os acentos circunflexos enfáticos,
o eros frenético e as cidades europeias, as glosas camonianas e uma "rosa irreversível"
vinda de outros tempos; mas o Herberto final, ântumo e póstumo, deve ser lido à
luz do aviso "vou ali e já não venho", para citar um verso
significativo no seu prosaísmo de despedida. Apontar cedências ou facilidades é
um processo de intenções, mas a morte é uma certeza com consequências: "a morte
é mesmo estranha:/ morre-se todos os dias/ e enquanto se morre pede-se uma esmola
para matar a fome de outra vida,/ e dão-nos pelo amor de Deus uma pequena moeda
de nenhum país,/ e não há ranhura onde a moeda entre (...)." Esta moeda inútil
é uma decepção, sem dúvida, mas não uma abdicação, antes uma raiva renovada, um
último protesto. Herberto escreve: acham-me "muito muito velho",
pensam que sou "inofensivo", que estou "fora de combate",
que sou "doce, sweet, frágil, etéreo, gasoso": "e é esse exactamente
o erro deles/ - duro duro duro".
Pedro Mexia, Expresso-Revista, 2016-03-23
Herberto Helder: um poeta que só guardava o essencial
O arquivo de Herberto Helder foi integralmente digitalizado e vai poder ser consultado na Faculdade de Letras do Porto, que espera poder vir a acolher também a biblioteca do poeta.
Herberto Helder não era de guardar rascunhos ou de manter arquivos de correspondência, mas deixou, ainda assim, entre outros papéis, vários cadernos com inéditos, um livro de poemas em prosa que nunca foi publicado e uma antologia de quadras populares.
Todo este acervo acabou agora de ser digitalizado por iniciativa do ensaísta Arnaldo Saraiva, que conseguiu o apoio da Gulbenkian para custear a digitalização e intermediou o depósito deste arquivo digital na Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), da qual é hoje professor jubilado e emérito.
Saraiva espera ainda que a própria biblioteca de Herberto Helder possa vir a ser depositada na FLUP, que recuperou recentemente um seu antigo edifício na Rua do Campo Alegre para acolher duas importantes bibliotecas, a do historiador da literatura e linguista Óscar Lopes (1917-2013) e a do escritor Vasco Graça Moura (1942-2014). Já no próximo dia 1 de Abril, a FLUP e a família de Graça Moura assinarão, numa cerimónia pública, o contrato de depósito do arquivo e das dezenas de milhares de livros da biblioteca do escritor.
Amigo de Herberto Helder e da sua viúva, Olga Lima, Arnaldo Saraiva diz que o seu primeiro objectivo foi garantir que ficava salvaguardada uma versão digital de todos os papéis do poeta tal como este os deixou. “Podia haver um acidente, podiam desaparecer coisas, ou serem mudadas de sítio, como aconteceu com o espólio de Fernando Pessoa”, diz o ensaísta.
O presidente da Fundação Gulbenkian, Artur Santos Silva, “mostrou-se logo disponível”, conta Arnaldo Saraiva, para apoiar este projecto, que incluiu também a digitalização das muitas correcções e apontamentos que Herberto Helder deixou nos exemplares que guardava dos seus próprios livros.
Tal como Pessoa, Herberto também tinha uma arca, em sentido literal, onde ia guardando o que queria conservar, mas não deixou 27 mil documentos, como o poeta dos heterónimos, nem incontáveis versões dos mesmos textos. “Ele não guardava muita coisa: recebia muitas cartas entusiásticas desde que publicou O Amor em Visita [em 1958], mas não conservou quase nada, explica Saraiva, que crê que o poeta terá mesmo destruído “alguma correspondência importante com grandes poetas estrangeiros”.
E se não seguiu o exemplo do seu amigo Carlos de Oliveira, o outro grande reescritor da poesia portuguesa da segunda metade do século XX, que deixou instruções explícitas para que nada fosse publicado postumamente, Herberto Helder também não parece ter querido legar à posteridade o acesso aos meandros da sua oficina poética. “Com a excepção destes últimos livros, costumava destruir as versões anteriores do que publicava, e o que conservava nos seus caderninhos eram coisas que tencionava eventualmente refazer ou usar mais tarde, e não registos de uma determinada fase de escrita”, defende Arnaldo Saraiva.
O ensaísta não pode precisar o número exacto de documentos digitalizados, mas pensa que o arquivo agora depositado na FLUP constará de “duas mil e tal imagens”, incluindo reproduções de fotografias e alguns artigos de jornais que Herberto recortou, e que nem sempre dizem respeito à sua obra.
Duro duro duro
Mas se o arquivo é pequeno, basta ler o livro que a Porto Editora lançou esta quarta-feira para assinalar o primeiro aniversário da morte do poeta, Letra Aberta, reunião de um conjunto de inéditos que Olga Lima seleccionou a partir dos cadernos de Herberto Helder, para não restarem dúvidas da sua importância. Se Poemas Canhotos, que o poeta teria deixado pronto a publicar, e que foi lançado logo após a sua morte, incluía alguns poemas fulgurantes, dificilmente este Letra Aberta poderá ser considerado inferior, quer na qualidade dos seus melhores poemas, quer mesmo enquanto conjunto.
“A sequência funciona, tem uma coesão surpreendente, e há neste livro pontos muito altos, poemas muito fortes”, diz o poeta Gastão Cruz, admirando a capacidade que Herberto Helder teve até ao fim de renovar a sua poesia.
Também a ensaísta Rosa Maria Martelo, de quem a editora Documenta publicará em Abril Os Nomes da Obra — Herberto Helder ou O Poema Contínuo, também acha que “este é, sem dúvida, mais um livro notável, uma excelente selecção de poemas”, na qual “reconhecemos os temas de Herberto Helder, a energia fulgurante a que nos habituou e também aquela frontalidade que, devido ao envelhecimento e à proximidade da morte, exigia agora uma coragem rara”.
E sabendo que Herberto “foi sempre um reescritor” e que “pensou a sua poesia como um livro único, um poema contínuo que se ia ampliando e cortando, deslocando e refazendo”, Martelo confessa que até “receava os efeitos da publicação” deste volume de inéditos. “Mas a qualidade dos poemas é inquestionável, bem como a sua força e, talvez acima de tudo isto, a sua verdade”, argumenta.
Não parecem também restar dúvidas de que a generalidade dos poemas escolhidos por Olga Lima, se não todos, são bastante recentes. Em alguns pressentem-se reacções ao que se escreveu nos jornais a propósito de A Morte Sem Mestre em 2014: “eu cá acho que sim,/ acho que apesar de tudo escrevi um poema aceitável,/ um poema que amadurou em mim ao longo de oitenta anos (…) ah, aceitem lá a pequenez geral da minha vida/ e do meu nome obscuro,/ e o quão honesto sou odiando tudo isso”.
E no poema que fecha o volume, refere expressamente os seus 84 anos: “(…) a verdade é que eu estou melhor agora/ com 84 anos:/ primeiro, como me acham muito velho, pensam que sou inofensivo, e não me chateiam,/ segundo, deduzido do anterior, não posso ser um rival perigoso,/ terceiro, estou à partida fora de combate,/ quarto, já não fodo,/ quinto, em linha recta, nem é preciso perder tempo comigo, sou doce, sweet, frágil, etéreo, gasoso/ e é esse exactamente o erro deles/ - duro duro duro/ quanto mais velho mais duro é o corno — disse o papa Malaquias e que por isso foi morto (…)”.
O volume reproduz alguns dos manuscritos a partir dos quais os poemas foram fixados, que permitem ver que a caligrafia de Herberto Helder é geralmente muito legível. A organizadora, que indica no livro as poucas situações em que o poeta não chegou a decidir-se entre duas palavras, só assinala um caso de “leitura problemática”.
O que parece é ter havido uma falha de transcrição no primeiro verso do poema cujo manuscrito aqui transcrevemos. As palavras “esta noite” passaram correctamente para o início, de acordo com o sinal usado por Herberto, mas este não abrange a sequência “diz o jornal”, que deveria ter permanecido no final do verso.
Um livro inédito
Arnaldo Saraiva diz que há outros poemas inéditos em condições de serem publicados além dos que foram agora reunidos em Letra Aberta, e encontrou ainda no espólio “um livro de prosa poética” inédito. Constava há muito que Herberto Helder tinha um livro que nunca quisera publicar, mas que teria chegado a mostrar a um par de amigos, e o aparecimento deste original parece confirmar que a dita obra de facto existia e que o poeta, se nunca a editou, também não a destruiu. “Tem muitas rasuras e intromissões depois da primeira escrita, e vê-se que há ali trabalho de várias fases”, diz Arnaldo Saraiva. “É um livro que tem de ser editado, mas é preciso que isso seja feito com critério, porque há ali saltos, intromissões e uma ou outra coisa que o Herberto deixou indecidida, e que não podemos decidir por ele”.
Descontado este achado, Saraiva não encontrou no espólio “surpresas de maior”, mas refere ainda uma antologia de quadras populares que o poeta deixou organizada. “Na última conversa que tivemos, falou-me desse romanceiro”, conta o ensaísta, que dado o seu reconhecido interesse pelo campo das literaturas orais e populares, deverá assumir ele próprio a edição deste trabalho. “Só será publicado quando tudo aquilo estiver bem estudado, até porque é preciso ver se ele não inventou algumas das quadras”.
Ainda não há data para a disponibilização do arquivo agora digitalizado, mas Saraiva espera que possa ser consultado em breve. Mais complexo é o que fazer deste material. “Há poemas inéditos que têm de ser publicados com rigor, é preciso ponderar uma possível edição crítica, e novas edições de qualquer livro terão de passar por este material”, diz Saraiva.
O facto de Herberto Helder ter desmantelado vários dos seus livros, distribuindo parte deles por outros títulos, como aconteceu comApresentação do Rosto (1968), Vocação Animal (1971) ou Cobra (1977), mas também suprimindo definitivamente vários poemas de edição para edição do seu “poema contínuo”, e reescrevendo outros, torna a tarefa dos futuros responsáveis por uma qualquer edição crítica — para a qual, além do mais, parece não existir muito material — particularmente espinhosa.
E parece evidente que as futuras edições de Herberto não poderão deixar de ter em conta a sua condição de reescritor forte, ou seja, alguém para quem a obra é, em cada momento, um todo orgânico. Rosa Maria Martelo lembra um texto publicado na revista brasileira Cult, no qual “Herberto Helder fala do modo como os poemas a mais, mesmo quando suprimidos, e ele suprimiu, reviu ou deslocou muitos, ‘projectam a sua mácula nos poemas legítimos’”.
Mesmo sem conhecer os manuscritos agora digitalizados, Martelo acha que “seria desejável manter a autonomia do que o poeta concebeu como ‘poema contínuo’, dado que o pensou como um texto único, um livro de livros”. E a ensaísta questiona-se se “haveria da parte de Herberto Helder a percepção de que os poemas de A Morte Sem Mestre, e por extensão, os que depois foram publicados em Poemas Canhotos, funcionavam como uma espécie de post-scriptum”.
Enquanto não houver respostas para esta e outras perguntas — e talvez o arquivo forneça pistas para se chegar a algumas —, seria talvez prudente assumir a edição dos seus Poemas Completos, que o poeta ainda viu sair em 2015, como último estado desse seu “poema contínuo”, tornado definitivo pela sua morte, e publicar tudo o resto, por muito bom que seja (e frequentemente é), com um estatuto diferenciado.
Inéditos de Herberto Hélder lançados no Dia da Poesia
CRÍTICA
A acção do poema
Mais um livro póstumo, onde a voz mais elevada da poesia de Herberto Helder se pode apreender nalguns poemas, os suficientes para justificar esta edição.
Depois de Poemas Canhotos, eis o segundo livro póstumo de Herberto Helder. Chama-se Letra Aberta e reúne trinta e três poemas inéditos, escolhidos por Olga Lima. A inauguração do espólio do poeta já sem a sua tutela (o livro anterior tinha sido deixado pronto para publicação) foi mais rápida do que era previsível, mas é gratificante: há neste livro um punhado de poemas que ascendem aos cimos da melhor obra herbertiana. E na comparação com o livro anterior, este tem muito a ganhar. Na recepção crítica da poesia de Herberto Helder, esta ideia de que nem tudo se equivale e de que também há momentos fracos é recente, foi suscitada pelos últimos livros, e é a resposta que obteve a um novo desafio (implicando não apenas decisões editoriais, mas também representações e imagens públicas) que o próprio poeta decidiu fazer, por insondáveis determinações, que revogaram severas determinações que se tinham colado à sua imagem como uma segunda natureza. Ecos deste embate, temo-los ainda nalguns poemas deste livro, aqueles que provavelmente serão por estes dias mais citados, mas que estão longe de ser o que de melhor nele podemos ler.
Herberto Helder é muito melhor no exercício de terror que praticou contra tudo (a língua, a pátria, a família, Deus, a beleza, etc.) do que no exercício de tiro ao alvo, mesmo quando o alvo é ele próprio e as suas circunstâncias biográficas (por exemplo, a atitude perante o envelhecimento e a morte próxima). No entanto, o abandono moderado de uma elevada entoação órfica seguiu também outras vias pelas quais o poeta chegou a poemas de um enorme fulgor. Há neste livro algumas amostras, vejamos esta: “escrevi umas poucas linhas como estela e como exemplo,/ mas faltava algures uma linha de silêncio que as ligasse todas,/ e então abri a mão inteira e sobre a mão abri a boca,/ e depois fechei os olhos a toda a volta,/ e depois a terra estremeceu,/ e depois eu estremeci no meio dela, mudo e cego e surdo e imóvel:/ mas soube que não tinha criado os elementos do mundo”. O poema a que pertencem estes versos é uma pequena pérola de auto-reflexão poética. A palavra “mundo” (fundamental, no vocabulário herbertiano) e as duas formas do verbo “estremecer” oferecem matéria de natureza poetológica para uma leitura da sua obra poética. Talvez o “estremecimento”, nas suas imensas ocorrências, seja uma maneira de dizer que o poema é uma acção e essa acção é uma agitação da linguagem. O poema é o lugar da maior agitação e é o que mantém aberto, na sua articulação, o sonho de uma língua que retém e desacelera. Abrir a linguagem, obter a “letra aberta”, é de facto uma acção que não consiste em dobrar a linguagem em direcção a um fim. E é aí que, em cada nome se dá um estremecimento. O poema vem do canto e guarda a memória de ter sido cantado. E quanto ao “mundo”, que reaparece com alguma frequência neste livro, aí entramos numa zona de onde se avista o fundamental da poesia de Herberto Helder. Há uma questão do “mundo” na poesia moderna (sobre a qual, aliás, há importantes estudos), que pode ser inaugurada com uma frase que podemos ler no Hyperion, de Hölderlin. É quando Diotima diz: “Tu queres um mundo. É por isso que tens tudo e não tens nada”. Mas para tratarmos a questão do mundo em Herberto Helder também não podemos ignorar que a sua poesia reivindica uma dimensão arcaica que a faz atravessar o tempo desde a origem. Tal como não podemos esquecer um conceito de Rilke, o “espaço interior do mundo”: em termos muito sumários, trata-se de um mundo interiorizado e um Eu exteriorizado, onde se abolem as fronteiras entre o dentro e o fora.
Nota: no frontispício do livro, podemos ler: “poemas inéditos escolhidos por Olga Lima”. Mas o livro não resultou apenas de um acto de escolha dos poemas. Quem fez a transcrição? De quem são as quatro notas que aparecem no final? E, mais importante ainda: de quem é a decisão de chamar a este livro Letra Aberta (nome retirado de um poema)? Tudo indica que é um título editorial, mas o livro faz passá-lo por título autoral.
Herberto Helder. Pode o poeta perder a aura?
Joana Emídio Marques, Observador, 2016-04-10
Durante décadas a publicação de um livro de Herberto Helder era um acontecimento. Cada livro mexia com a tectónica da poesia portuguesa que se escrevia em redor. Obrigava a que todos e cada um se reposicionassem. Mesmo os que o odiavam. Ou sobretudo esses. Uns escreviam contra ele, outros escreviam como ele, outros escreviam o oposto a ele. Mas ninguém lhe ficava imune.
Os livros surgiam de vez em quando, sem data pré-estabelecida. Os poemas eram escritos e reescritos e carburavam esse tempo lento. Eram o poema contínuo. Um trabalho incessante sobre cada palavra e as suas respetivas ressonâncias, sobre cada imagem evocada fizeram da sua uma linguagem poética única na história da poesia portuguesa. Há lugares que só ele tocou, porque, entre outras coisas, escrevia contra a linguagem do poder. Escrevia contra a linguagem banalizada por um mundo ao sabor das modas e onde tudo passa sem deixar rasto. O poema contínuo era também um tempo contínuo. Um tempo que não coincide com esta modernidade onde tudo explode, se dissolve numa rapidez estonteante.
Mas a aura de Herberto Helder foi mais construída pela sua recusa de participar no circo mediático da literatura do que pela grandiosidade da sua poesia, que afinal poucos liam. O poeta que teimosamente desprezava o mundo das aparências construía, paradoxalmente, a aparência de um mito. Livros de edições únicas (por vezes corrigidos à mão pelo próprio autor), que faziam as delícias dos alfarrabistas, mas que eram sobretudo manifestação do constante desassossego e insatisfação que ele sentia em relação às coisas que escrevia.
A total recusa de falar aos media, a rejeição de quaisquer prémios e honrarias valeram-lhe uma corte de admiradores. Herberto era aquele que recusava majestaticamente aquilo que todos parecem querer: fama, mundanidade, dinheiro.
Esta postura que era, para Helder Macedo, escritor e amigo de longa data do poeta, “um misto de arrogância e integridade”, terminou em 2013, com a publicação de Servidões. O “fenómeno Herberto” explodiu.
Já com a Porto Editora a trabalhar a marca Assírio & Alvim, o livro esgota as tiragens, os media percebem o elan e os críticos apressam-se. E eis Herberto chegado às redes sociais, estrela pop de um mundo que ele nem sequer conhecia. A partir daqui saiu um livro por ano: A Morte sem Mestre, Poemas Canhotos e agora Letra Aberta. O primeiro terminado e publicado ainda em vida, o segundo estava pronto para ser publicado quando o autor morreu em março de 2015. Este agora é uma recolha feita nos cadernos de Herberto pela sua viúva, Olga Lima.
No meio deste frenesi, a grande questão que o novo livro nos deixa, e porque ele nos devolve a grandiosidade da poesia de Herberto, é: uma vez rasgada a aura de mistério do poeta como sobreviverá a sua poesia?
Os estudiosos da obra herbertiana desmultiplicam-se em análises, congressos, sonham com edições de aparato crítico. As redes sociais replicam a capa e alguns poemas. Os livros são celebrados, agraciados e rapidamente esquecidos. Há notícias de que o espólio vai ser digitalizado pela Universidade do Porto, que o professor Arnaldo Saraiva vai trabalhar quadras populares deixadas pelo autor e fala-se mesmo numa arca, apelando ao mito pessoano.
No meio deste frenesi, a grande questão que o novo livro nos deixa, e porque ele nos devolve a grandiosidade da poesia de Herberto, é: uma vez rasgada a aura de mistério do poeta como sobreviverá a sua poesia?
Servidões, livro de 2013 esgotou em poucas semanas. Como era desejo do autor o livro não foi reeditado.
O mito do poeta obscuro
“Qual poeta obscuro! O Herberto nunca quis ser obscuro, pelo contrário, nunca quis ser obscurecido pela mediocridade circundante”, afirma Helder Macedo, em conversa com o Observador. Já Gastão Cruz, outro poeta amigo de longa data de Herberto, afirma: “Essa coisa do obscuro é uma invenção da Maria Estela Guedes [uma das primeiras estudiosas da obra de HH].” Isto antes de desligar o telefone com a declaração “não falo com jornais de direita”.
Outro dos autores com quem o Observador falou foi Diogo Vaz Pinto, jovem poeta, editor, e crítico dos jornais i e Sol que, em 2014, assinou uma critica duríssima sobre o livro A Morte sem Mestre. Ao que Herberto, no seu habitual estilo combativo, resolveu contra-atacar num poema que surge no seu livro seguinte Poemas Canhotos (já publicado postumamente):
(…)um jovem ávido cheio de cotovelosno meio da multidão(…)oh dêem qualquer coisa ao rapaz frenético:um relâmpago fotográfico em cheio no rosto,um calmante,um sôco,um bombom recheado de maria gloriazinha,vai ser difícil vai ser difícil o rapaz não tem escrúpulos,tem uma fome que vem das primeiras letras,o rapaz é órfão de toda a gente,ele quer à força entrar no filme:logo a primeira imagem em plano glorioso,mas calma aí, isso não é assim tão raromas não vêem vocês aí aquele rosto famintonão vêem os olhos assassinos?ele era capaz de matar para ter uma chamada ao palco,ora ora o mundo está cheio disso:rapazes que nunca foram amados quando crianças com ranho no nariz e lágrimas nos olhos ardentes (…)
Mas também este crítico literário insiste na necessidade de se “abandonar esta mitificação da pessoa e da obra de Herberto, porque isto apenas acrescenta um ruído fútil, cansativo”.
Pelo contrário, diz, “é preciso deixar a poesia que ele criou respirar, repousar, pois será ela que abrirá caminhos para si própria, para se fazer sobreviver. A poesia dele ajuda-nos a pensar o futuro da poesia em geral e o futuro da sua poesia em particular. Porque questiona, como poucas, este tempo que vivemos, esta angústia e esta permanente sensação de estarmos a viver um tempo terminal. As suas perplexidades amplificam as nossas. O vazio que ela teme e confronta é o nosso vazio. Ao fazer ressoar os milénios passados como, eventualmente, os futuros ela está a dizer-nos que há outro tempo, outra forma de viver o tempo, que não tem que ceder a esta voragem, esta leviandade que a tudo e todos arrasta. Ou seja Herberto pôs-se à margem mas apenas para ver melhor, para não se deixar arrastar, compreender melhor este mundo e nunca deixou de sofrer com isso.”
‘Letra Aberta’: um regresso depois da despedida
“um nome que me digas ou não me digas duas vezesem dois abismos de sono, esse nomefaz-se carne no mais âmago de mim mesmo,esse nome trabalha-me,é igual ao segredo:pãoeu cômo-o no mais escuro do mundo,cortado a água e mais nada,quase como quando se morre mais devagar,se é noite que entra:pão profundo mastigadoacaso na maior parte das noites seguidas umas à outras”
(pag.39)
Tanto Helder Macedo como Diogo Vaz Pinto (dois poetas de gerações muito diferentes, um tem 80 anos e o outro 30) concordam que nos últimos livros o poeta estava a despedir-se. Ele sentia que já se perdia nesse tempo que foi o núcleo da sua poesia. Dai a reatividade e maior fisicalidade dos seus últimos poemas. Na opinião de Helder Macedo “os últimos livros do Herberto representaram, simultaneamente, uma recuperação de atitudes (iconoclásticas, desmistificadoras, irónicas em relação a si próprio) da sua juventude e uma tentativa de encontrar uma nova voz poética em que as veiculasse, não como início mas como fim de vida. Foram por isso livros de grande coragem, em que o Herberto (um dos poetas mais imitados no nosso repetitivo panorama literário) se não imitava a si próprio.”
“Ele impõe uma resistência ao processo de canonização e a espetacularização que haveria sempre de convertê-lo num ícone”, afirma Vaz Pinto. “Neste novo livro temos a possibilidade de espreitar sobre o ombro, temos vislumbres de um irrefreado ofício em busca do ponto último, em que de tão perfeitamente maduro o sabor de um verso não mais se esquece. É, ao mesmo tempo, uma espécie de post-scriptum, esse gesto tão humano de olhar para trás e questionar-se sobre se a grandeza do esforço em que empregou a vida toda poderá sobreviver a um tempo em que nada sobrevive, um tempo de obliteração. Sabemos que estes poemas eram apenas a crisálida do que viria a ser se o poeta continuasse vivo e a trabalhá-los continuamente como era seu hábito, obrigando-os a um período de estágio na gaveta para que se gastasse o fôlego a tudo o que fosse contingente. Talvez este livro demorasse muitos anos a vir a público, e depois poderia ser chamado de volta à liça, reescrito, porque Herberto não abandonava os versos a um destino público. Ele vigiava-os, escrutinava-se. Em muitos sentidos foi dos poetas que mais se empenhou em condicionar a forma como era lido. E nesse sentido estes são poemas imperfeitos, mas que nos permitem perceber a forma como ele se embrenhava, pairando em círculos elevados, até fixar um sentido especialmente acutilante, fixá-lo nas inúmeras vertentes da linguagem, das imagens ao som e aos ritmos”, continua o poeta e crítico.
"Os seus leitores que haviam ficado perplexos (ou mesmo dececionados, como alguns ficaram) com este livro vão ficar mais sossegados. Reconhecerão aqui o poeta que amavam e não queriam que mudasse."
“Quanto à publicação destes poemas, acho que é um ato de partilha por parte da Olga Lima, que foi a constante e discreta companheira do Herberto durante longos anos até ao fim da vida dele. E que discreta continuou a ser, no modo como os recuperou e organizou. Que eu saiba, o Herberto nunca disse que não queria que estes poemas (ou outros textos que a Olga me disse que deixou inéditos) fossem publicados. Simplesmente deixou-os ficar entre os seus papéis, até ver. É bom que agora se vejam”, completa Helder Macedo
Neste livro, constituído por poemas que Herberto ainda não teria considerado prontos para publicação, diz ainda Helder Macedo “reencontramos, paradoxalmente (ou não), o poeta anterior a esses últimos livros. Os seus leitores que haviam ficado perplexos (ou mesmo dececionados, como alguns ficaram) com este livro vão ficar mais sossegados. Reconhecerão aqui o poeta que amavam e não queriam que mudasse. Em vez da sobre-humana voz bárdica dos seus grandes poemas, temos aqui a voz precariamente humana de quem os havia escrito. É, nos seus próprios termos, um belo livro. E, no contexto da obra do Herberto, um testemunho literário importante. De algum modo, ainda bem que o Herberto não os trabalhou mais, transformando-os no que, em termos de “oficina” literária, poderiam ter sido. No contexto da restante obra poética do Herberto e como expressão de quem o Herberto se havia tornado com a proximidade da morte, não são por isso menos belos nem menos verdadeiros.”
Depois de décadas sem se deixar fotografar, Herberto surge nas fotos de Alfredo Cunha, poucas semanas antes da sua morte.
“Alguns destes poemas lembram-nos o melhor de Herberto. Lembram-nos que como ele continuou até ao fim a tentar abrir novos caminhos para a poesia. Lembram-nos como ele consegue usar o mais amplo espetro da língua para continuar a realizar inversões bruscas na paisagem, ser ainda mais claro do que os que se limitam ao método da redução e simplificação banal das coisas, denunciando muito claramente o ambiente geral de indigência em que mergulhou o país. Apesar de imperfeitos estes poemas tremem de desgosto, cada palavra busca uma refulgência própria e é a expressão de um desencanto irado que choca com o desencanto cabisbaixo que se tornou um ânimo geral”, afirma Diogo Vaz Pinto.
Herberto Helder ou o poema contínuo
Se a aura de Herberto Helder sobreviverá ou não à máquina mercantil, isso não vai mudar a natureza da sua obra. Talvez só depois de rasgada esta aura artificial, mais alimentada pelos comportamentos sociais do poeta do que pela sua poesia, se possa enfim vislumbrar melhor a amplitude do que nos deixou Herberto.
Os poemas de HH foram, ao longo dos anos, sendo reunidos em várias súmulas. Estas edições tiveram vários títulos diferentes mas, como sugere o poeta Manuel Gusmão, o melhor será este que deve ser lido assim:”Herberto Helder ou o poema continuo”
O trabalho de reescrita continua dos poemas, que o faziam recusar fazer mais do que uma edição de cada livro, demonstra como ele compreendeu bem a essência disruptiva e ambígua da modernidade, e como soube integrar isso no seu trabalho e na sua lírica. O seu profundo desassossego, a sua compreensão de que o mundo não é feito de uma geometria racional mas por pequenas e grandes catástrofes, fez com que o poeta construísse uma obra que replica essas metamorfoses contínuas. Letra Aberta parece ser assim um testemunho poético, onde ele nos mostra, precisamente, que cada palavra está aberta ao devir e que, portanto, a sua poesia poderá ser lida, compreendida e amada em qualquer tempo que vier.
http://observador.pt/especiais/herberto-helder-poeta-perdeu-aura/