MATADOURO
Dancei num matadouro, como
se o sangue de todos os animais que à minha volta pendiam degolados fosse o
meu. Dancei até que em mim houvesse espaço para um poema de que todas as
imagens depois fossem desertando.
A luz que desse sangue
irradiava, como se nele o sol tivesse mergulhado e os raios nele se houvessem
diluído, atravessava-me os poros e fazia-me cantar o coração. Tratava-se de uma
luz que nada tinha a ver com a piedade ou a esperança, mas cuja música, sem me
passar pelos ouvidos, ia direita ao coração, que no dos animais acabados de
abater por momentos encontrava um espelho ainda quente, tão diverso da algidez
que habitualmente neles impera.
Só num espelho assim saído
há pouco das entranhas dum ser vivo se desenha a nossa verdadeira imagem, ao
invés da frigorífica mentira onde é comum a vermos esboçar-se. Só esse espelho
capta a espessa luz em que parecem ter-se consumido os próprios astros, essa
luz que com os objectos que ilumina se confunde numa única substância capaz de
arrancar-nos à treva e de dar cor à santidade.
A luz do néon, ante aquela
de que se esvazia o coração dum porco, é uma metáfora de impacto reduzido. A
luz que das vísceras emana é a de deus, aquela que, por uma excessiva dose de
trevas misturada, mais que qualquer outra se aproxima da de deus, que
resplandece nas carcaças em costelas onde é fácil pressentir as incipientes
asas de algum anjo.
O berro do animal que
qualquer faca anónima remete à condição daqueles cujo sangue se escoe ao nosso
lado é o único som a que dançar merece a pena. O dia declinou-lhe nas entranhas,
quantas manhãs as percorreram absorvidas pelas aberturas dos seus olhos mais
não são agora do que um rastro de lume sobre a lâmina e nos baldes onde pinga,
reduzidas a um furtivo clarão de dignidade de que todos de repente nos sentimos
órfãos.
Luís
Miguel Nava, O Céu sob as
Entranhas, Porto, Limiar, 1989

«Pas de poème sans accident, pas
de poeme qui ne s' ouvre comme une blessure, mais qui ne soit aussi blessant.
Tu apelleras poème une incantation silencieuse, la blessure aphone que de toi
je désire apprendre par coeur.», Jacques Derrida, «Che cos'è la
poesia?»
Impõe-se,
nas primeiras linhas, a estranheza, o efeito perturbador da imagem: a dança no
matadouro. O impacto da frase inicial («Dancei num matadouro...») é
intensificado pela anáfora que, simultaneamente, deixa adivinhar o forte pendor
estruturante do texto.
A poesia
de Luís Miguel Nava ocupa um lugar diferenciador no panorama da poesia
portuguesa dos finais do século XX, e essa diferença decorre, em grande medida,
da extraordinária força das imagens e do sábio recurso ao poema em prosa.
Estamos perante uma escrita pensada em imagens e em pequenas histórias.
«Matadouro», poema publicado em 1989, no livro O céu sob as entranhas, é a este
respeito paradigmático, o que leva a que nele se entreveja uma poética. O modo
como abre o poema constitui uma espécie de anúncio, digamos que um espantoso
envio metapoético: «Dancei até que em mim houvesse espaço para um poema de que
todas as imagens depois fossem desertando». São as imagens em fuga que dão corpo
ao poema. A dança é como que uma força motora: dança-se até que ocorra a brutal
explosão das imagens. Lembre-se um título emblemático: A Inércia da Deserção. Aqui,
a própria configuração gráfica fornece-nos a imagem: o estilhaçamento é
textualizado em fragmentos muito curtos que imprimem a ideia de um fluxo. Na
página visualizamos uma deserção de imagens. Em «Matadouro», a deserção
presentifica-se na própria contundência imagética, na revelação de uma verdade
que espelha o que se pretende que seja o espaço do poema. O poema nasce na
dança, nasce no berro do animal, nasce nas vísceras. Escrever com sangue: é
assim, e só assim, que existe o mundo na extrema violência do ato criador.
O espaço
para um poema em mim é equivalente ao espaço que em mim dança ou à dança, ela
mesma. Entenda-se o poema como encenação simbólica do «lugar» da criação. A
dança e a música como figurações primordiais do impulso criador fazem ecoar, na
surpreendente coreografia que o poema dá a ver, a memória do rito dionisíaco: a
dança frenética, o grito, o delírio, a assunção do lugar do outro. A própria
figura do centramento decorre de um efeito de assimilação do mundo: «como se o
sangue de todos os animais que à minha volta pendiam degolados fosse o meu». A
ação imaginária como que devém real nesse ritual sangrento. A música leva ao êxtase
e faz que se rompam as fronteiras entre o humano e o divino. É por meio da execução da dança que se
incorpora o que da animalidade (o não-humano) equivale ao não racional, ao que
pretende ser «exemplo» de um projeto de escrita.
As
intermitências prevalecentemente visuais (luz/sombra), mas também sonoras (a
música e a estridência) ou de outra ordem (nas mesclas sensitivas), aparecem
ligadas a um eixo de alternâncias que tem uma expressão decisiva em toda a
poesia, aquele que opõe os exteriores aos interiores. Neste poema, como no
resto da obra, as polaridades associadas, que assinalam a oposição dentro/fora,
surgem para que se desfaçam todas as marcas de binarismo (natureza/cultura;
animal/homem; concreto/abstrato). Os movimentos, que de modo esquemático
assinalam a diferença, acabam por conduzir à indistinção, à fusão. Assim, à falsa
imagem de todos os dias (refletida na algidez imperante dos espelhos que projetam
uma «frigorifica mentira») opõe-se a verdadeira imagem (verdadeira natureza)
projetada pelas vísceras («espelho ainda quente»). Se bem que estas constituam um
lugar de eleição («Só num
espelho assim...», «Só esse espelho capta...»), o que prevalece não é a
categorização bipolar, mas a fusão. Todas as divisões são dissolvidas e a luz
passará a confundir-se com os objetos que ilumina, conformando uma «única
substância capaz de arrancar-nos à treva e de dar cor à santidade». Esta
indistinção é homóloga à indistinção criadora: ser com o poema uma única substância.
O reconhecimento da singular autenticidade desse «espelho» leva-nos a perspetivá-lo
como homólogo ao poema. Um espelho que reflete uma luz terrível e vivificadora,
espelho em que nos abismamos no êxtase animal da contemplação.
A
representação da violência (espaço de uma iluminadora experiência-limite) põe
em jogo a concentração e o excesso. Pode ver-se na propensão ordenadora (nos
encadeamentos lógicos) o funcionamento da vertente conceptual desta poesia.
Toma-se também muito evidente a contaminação entre o registo poético e a nota
ensaística, que dá conta do pendor reflexivo. A propensão teórica ocorre em
frases explicativas («A luz do néon [...] é uma metáfora de impacto reduzido»;
«Trata-se de uma luz...») e a apurada consciência reflexiva é apoiada por um
enquadramento delimitador no que diz respeito à estruturação. Do ponto de vista
da composição, o propósito ordenador encontra-se patente em parágrafos
fortemente estruturados, integrando construções anafóricas e estruturas
simétricas muito definidas. A este propósito convém lembrar a decisiva influência
de Jorge Luis Borges. Recorde-se a escrita em zona de fronteira (relatos em que
a matriz narrativa se interpenetra com o ensaísmo); o impacto dos inícios e dos
finais incisivos, como ocorre em «Matadouro»; a interpenetração entre o abstrato
e o figurativo; o modo visualista de acesso ao pensamento e ainda a presença
explícita de imagens e lugares borgesianos, como seja a presença do espelho.
Apesar da
dimensão estruturante, é sobretudo nas linhas de fuga que se encontra aquele
que pode considerar-se o vetor mais afirmativo da poética de Luís Miguel Nava:
o estilhaçamento da representação do corpo fechado. Um trabalho fundamentado em
perspetivas diferenciadoras pretende levar a escrita à anulação das tensões entre
corpo e espírito, justamente em função desse deliberadamente novo perspetivismo.
«Matadouro»
tem sido com muita frequência aproximado da pintura de Francis Bacon. A mais
reconhecível das alusões surge no título. A realidade «cenográfica» da estranha
paisagem do matadouro conduz ao mais imediato reconhecimento de pontos de
contacto. Esse enquadramento baconiano repercute-se na identificação entre o
homem e o corpo esquartejado do animal. Dizia Bacon: «Somos carcaças em
potência, somos carne. Se eu vou ao talho, acho sempre surpreendente não estar
lá, no lugar do animal». Numa das mais obsessivas imagens do universo do
pintor, que se pode ver nos recorrentes quadros dos papas, as asas são essas
carcaças penduradas que também já apareciam na emblemática «Pintura» (1946) e
que aparecem em várias crucificações, onde nos ossos espectralmente
esbranquiçados vemos «as incipientes asas de algum anjo». A alusão baconiana ilumina
de forma admirável a expressão alegórica do poema. Somos conduzidos às
inquietantes coisas do mundo, onde, além da aparência visível, vemos outra
realidade dilacerada. Os universos ordenados estremecem perante a suspeita de
regiões invisíveis e de realidades estranhas sob as camadas familiares do nosso
mundo de todos os dias, ou do nosso corpo de todas as horas.
 |
| Triptych - Studies from the Human Body, right panel, 1979 (oil on canvas), Francis Bacon (1909-1992) |
O
centramento na figura do sujeito poético (no centro do matadouro, o eu rodeado
de carcaças de animais pendentes) conduz a uma anexação da figura do outro. O
que tende ao exemplo, à alegoria. É clara a
progressão enunciativa nos cinco parágrafos (cinco blocos) que constituem o texto.
Nos dois primeiros, é assinalável a insistência no eu (utilização da primeira
pessoa do singular dos pronomes pessoais e complementos); nos três parágrafos
seguintes deixa de ser referida a primeira pessoa do singular. Somos agora
todos nós que estamos no matadouro. É por essa
identificação que entramos em contacto com o mundo. O poema traz consigo a
interrogação: questiona-se dramaticamente a condição humana, direcionando-se
essa questionação para o insuportável fulgor do olhar inumano do homem. O gesto
do homem que dança no matadouro sagra a energia do universo imperfeito, aquilo
que a vida tem de inacabado (o homem como animal inacabado), e sagra o carácter
excessivo que destaca a energia das sensações puras, a incomparável pureza da
violência animal. O mundo é alegorizado no matadouro, lugar onde se morre. Os
animais pendem mortos, mas o sangue é vivificador. Diz-se a bestialidade do
mundo, mas, na bestialidade, a mais funda humanidade. Paradoxal culminação - o
interior animal é expressão totalizadora do humano. O exemplo animal (o sangue do
animal, o coração do animal; o grito do animal) diz o lado animal do homem como
expressão dignificadora. O «furtivo clarão de dignidade» que fica na lâmina e
nos pingos que caem no balde é um rastro da luz animal. Encontramos aí a marca
da divindade perdida.
É claramente dito que a luz, que irradia do
sangue, nada tem a ver com «a piedade e a esperança». Os tópicos imagéticos do
universo cristão encontram-se intencionalmente revertidos. A reversão tem como
resultado um trânsito desfigurador da «Imagem», que subsume todos os modelos
miméticos da ordem, da imagem do céu cristão (aqui o céu entrevisto é, como se
lê no título do volume, um céu sob as entranhas), da imagem da Vida, da
imitação de Cristo... Associando-se à violência sobre o corpo, torna-se cada vez
mais obsessiva na obra a presença um deus minusculado. Um deus que vai escarvar
a memoria («Escarvam-me o passado as unhas / de deus», «A neve», Vulcão), deus
cujas marcas ficam fundo na carne («inquietam-me as dedadas / de deus rente à raiz
da carne...», «Recônditas Palavras», Vulcão). A dilaceração do corpo vem, por
conseguinte, revelar a necessidade de mostrar que este corpo não é uma unidade
perfeita e por isso é dispersado, explodido, mas, complementarmente, nesse
movimento perfurador, dá-se conta de um procedimento de desdivinização.
A
arrebatadora violência centrífuga que tudo arrasta, o rasgão, dano abismal que
submete à fúria extensa do horror, é equivalente ao trabalho doloroso que
persiste lento sobre o texto. Logo no primeiro livro assomava a evidência das
inversões (anacolutos, hipérbatos ‑ digamos que modos diversos de anamorfose
sintática) que serviam as imagens do estranhamento, ou por elas eram servidas,
num excesso desordenadamente concebido. A consciência acesa de que o caminho se
iria trilhar por uma via de obsessões, um trabalho construído sobre essas obsessões,
vai encontrar apoio num dos traços mais distintivos desta poética: a sintaxe
que, como insistentemente Deleuze afirma, empurrada até ao limite, é onde a
literatura se faz. As «deformações», torções sintáticas, fazem-nos ver até onde
se pode levar a língua. E observe-se uma correspondência com consequências no
domínio fónico, onde as asperezas resultantes da distorção sintática contribuem
para que se crie esse efeito distintivo, como que «pictórico». Recria-se uma
atmosfera violenta que decorre da disposição das frases, do seu avançar por
vias retorcidas. Assinalem-se dois procedimentos: o enrolar do novelo e o
tornar visivelmente áspera a dicção por uma acumulação de nós (intrincada teia
de imagens). Do enovelamento sintático é exemplo notável todo o último
parágrafo. A imbricação das imagens é visível em todo o poema.
Carlos
Mendes de Sousa, Século de ouro –
antologia crítica da poesia portuguesa do século XX, organização de Osvaldo
Manuel Silvestre e Pedro Serra. Braga; Coimbra; Lisboa: Angelus Novus &
Cotovia, 2002.
POESIA
Quem matou o poeta Luís Miguel Nava?
No tempo em que festejavam o dia dos seus anos o poeta estava vivo e escrevia imagens que explodiam os sentidos. A 29 de setembro faria 60 anos. Quem celebra, quem lê, quem procura Luís Miguel Nava?
Não é certo o dia, a noite, a hora a assinalar no calendário. Sabe-se apenas que era maio de 1995 na Rue de la Madeleine, em Bruxelas e que aí morreria o poeta Luís Miguel Nava, tinha 37 anos. O corpo foi encontrado na cama, de mãos e pés amarrados e com um profundo golpe na garganta.
A história desta morte andou o poeta a escrevê-la durante 15 anos em seis livros de poesia e um de prosa, descoberto anos depois no disco rígido do seu computador estragado. A história desta morte não acabará enquanto a sua poesia e o seu corpo continuarem a originar novas matérias feitas de sangue, das cidades, de ossos, metáforas, azuis a pique, de mares e desertos absolutos. Metáforas que estilhaçam os nossos hábitos mentais, que nos põem os olhos a enterrar os dedos na carne, poemas terríficos que nunca encontraram um lugar na poesia portuguesa, que nunca mereceram grande atenção da crítica e dos quais muito poucos se lembram.
Ele sabia que “desnudarmo-nos é pouco, há que mostrar as vísceras”. Neste 29 de setembro, o poeta faria 60 anos. Morreu há 25. Deixou uma Fundação com o seu nome,uma biblioteca, muitos discos de vinil, uma obra de uma inquietante estranheza, ensaios, amigos, amantes, mistérios. Mas quem matou afinal Luís Miguel Nava?
Dancei num matadouro, como se o sangue de todos os animais que à minha volta pendiam degolados fosse o meu. Dancei até que em mim houvesse espaço para um poema de que todas as imagens depois fossem desertando.” (LMN, ‘Matadouro’, 1989)
Ironicamente, só o seu brutal assassinato lhe deu a atenção dos jornais portugueses. Porém, um ano depois, quando o jovem marroquino Mohamed Tourki, de 19 anos, foi condenado a 25 anos de prisão pelo crime, ninguém por cá parece ter dado conta. Apenas no jornal belga Le Soir encontramos a notícia do julgamento.
Tourki foi apanhado devido aos diários de Nava que davam conta da presença deste jovem instável na sua vida havia para mais de um ano. Não se sabe em que condições se conheceram, se era namorado ou prostituto. Em tribunal o adolescente alegou que fora violado, mas essa tese foi descartada porque o agressor também roubou o cartão multibanco, dinheiro, um leitor de CD e, nos dias que se seguiram ao crime, levantou cerca de 50 mil francos da conta do poeta, que trabalhava, há já alguns anos, como tradutor no Conselho das Comunidades Europeias.
A luz que desse sangue irradiava, como se nele o sol tivesse mergulhado e os raios nele se houvessem diluído, atravessava-me os poros e fazia-me cantar o coração. Tratava-se de uma luz que nada tinha a ver com a piedade ou a esperança, mas cuja música, sem me passar pelos ouvidos, ia direita ao coração, que no dos animais acabados de abater por momentos encontrava um espelho ainda quente… “
Terá a sua morte sido pacientemente tecida pelo próprio, que vivia perigosamente testando os limites do Eu, do corpo próprio e dos corpos alheios? Terá sido o coroar da sua obra, erigida sob um metódico mas alucinado estilhaçamento das fronteiras do Eu e do corpo? O culminar de um desejo inconsciente de transfiguração e metamorfose que a sua poesia anunciava? Ou, como escreveu o amigo que o encontrou naquele fim de tarde de Maio de 1995, Amadeu Lopes Sabino, terá ele, caminhado “de cabeça erguida em direção ao ato sacrificial que constituiria a chave da sua poética”?
 |
| Películas, de 1979, é a sua estreia numa editora importante como a Moraes e vence o prémio Revelação da APE |
Certo é que aos 33 anos convocou vários amigos para testemunhas do seu testamento. Garantia que nunca teria coragem de se suicidar, mas que em certas circunstâncias a sua visão da vida era já de tal modo distanciada que não podia “deixar de a a encarar como uma espécie de morte”. Disse que faria de Gastão Cruz o seu Azeredo Perdição, e deixava o projeto da criação da Fundação Luís Miguel Nava, do prémio literário. O seu lado metódico, obsessivo contrastava com o seu constante testar os limites do abismo, a sua exuberância social e sexual, a sua poesia alucinatória e ímpar. Em 1997 nasce a Fundação e o prémio literário com o seu nome destinado a obras de poesia. Nasce também a revista literária Relâmpago. À frente do projeto ficaram Gastão Cruz, Carlos Mendes de Sousa e Fernando Pinto do Amaral, tal como instituía o testamento.
A luz néon, ante aquela de que se esvazia o coração dum porco, é uma metáfora de impacto reduzido. A luz que das vísceras emana é a de deus, aquela que, por uma excessiva dose de trevas misturada, mais que qualquer outra se aproxima da de deus, que resplandece nas carcaças em costelas onde é fácil pressentir as incipientes asas de algum anjo” (ibidem)
O Observador falou com o poeta Fernando Pinto do Amaral sobre a atual atividade da Fundação e confirmou que o prémio literário está suspenso “por falta de subsídios”, o apartamento nas Laranjeiras, em Lisboa, que constitui a sede da entidade, tem depositada a biblioteca do poeta, as suas obras de arte, os seus discos e documentos pessoais, mas também os muitos exemplares não vendidos da revista Relâmpago, da antologia de poesia publicada em 2002 pela D. Quixote e um enorme silêncio.
A casa foi preparada para tertúlias ou eventos que não acontecem e, desde 2004, quando saiu na Assírio & Alvim um volume que reunia os ensaios de Nava, nunca mais foi feito nada de relevante para promover a obra do poeta. Pinto do Amaral disse também que no Brasil estão a ser feitos mais trabalhos académicos sobre Nava do que em Portugal.
Em 2007, há 10 anos, saiu na Relâmpago nº16, aquilo que será a única coisa inédita, fragmentos de um romance inacabado intitulado O Livro de Samuel, e que se crê abrir novos caminhos de interpretação da obra do poeta. O também poeta Gastão Cruz está, portanto, longe de ser o Azeredo Perdigão da Fundação Luís Miguel Nava, nome que a pouco e pouco todos vão esquecendo, para que outros possam ocupar o seu lugar. Luís Miguel Nava é, cada vez mais, um fantasma na sua própria casa.
 |
| Em Rabat. O poeta tinha um fascínio pelo Magrebe, em especial por Marrocos |
 |
Nava com o namorado Paulo Silveira em Zagora, Marrocos, 1987
|
Hoje, Luís Miguel faria 60 anos. Não há atividades previstas na fundação, nos festivais literários das redondezas, não há, como nunca terá havido, homenagens, nomes de ruas. Mesmo Viseu, a sua terra natal parece continuar a não ter conhecimento que ali nasceu e cresceu um dos nomes mais importantes da poesia portuguesa do final do século XX.
Habitar o próprio sangue
Em 1974 publica o primeiro livro, O Perdão da Puberdade, que num gesto anunciador de algum distanciamento em relação ao seu ego, acabará por colocar numa fogueira depois de ler a poesia de Eugénio de Andrade. No ano seguinte casa com a poeta Rosa Oliveira. O casamento dura poucos meses e Nava vem para Lisboa estudar Filologia Românica.
Terminada a licenciatura passa pelo colégio alemão como professor de Português. Mas as suas aulas fulgurantes, as ideias libertárias que ia disseminado entre os alunos motivaram queixas dos pais. Fez então um mestrado e fica como assistente na Faculdade de Letras de Lisboa. Irá depois para Oxford como Leitor antes de se fixar em Bruxelas, como tradutor de documentos burocráticos na CEE.
Se nunca se adaptou à solene Oxford, a vida de funcionário na capital belga viveu-a como um inferno. Paulo Silveira, seu aluno no colégio alemão e depois seu namorado durante vários anos, lembra, num depoimento publicado na revista Relâmpago, nº16, a personalidade solar de Nava nesses anos 80, apesar do horror da sida, a vertigem da cultura da imagem que o poeta soube integrar na sua lírica, as “noites no bairro alto a meter conversa com todos os rapazes e magalas que se nos atravessassem no caminho (…) ir ver a Lídia Barloff, engatar uns rapazes e a seguir acabar tudo numa grande rebaldaria na estrada de Benfica”.
 |
| Vulcão, Quetzal, 1994, é o seu derradeiro livro |
Apesar de ter partilhado a década de 80 com Al Berto e fosse, como este, assumidamente homossexual, a poesia de Nava despojada da melancolia albertiana, mais abertamente homo-erótica, têm uma violência verbal e imagética, uma discursividade que, na opinião de Prado Coelho, a torna mais próxima de Luiza Neto Jorge ou Herberto Helder.
Perdia-se-lhe o corpo através do deserto, que dentro dele aos poucos conquistava um espaço cada vez maior, novos contornos novas posições, e lhe envolvia os órgãos que isolados nas areias, adquiriam uma reverberação particular (…) a sua carne exercia aliás uma enigmática atração sobre as estrelas, que,em breve conseguiu assimilar, exibindo-as, aos olhos de quem não soubesse, como luminosas cicatrizes cujo brilho, transmutado em sangue,lentamente se esvaia… “(‘O Corpo Espacejado’, 1989)
Luís Miguel Nava consegue, ao mesmo tempo, evocar o corpo crístico, o corpo espectral que edifica dois mil anos de cultura judaico-cristã e o corpo solitário, angustiado e sem deus do homem moderno, cuja carne se confunde com as cidades, o plástico, as latas, as paredes. Mas sobretudo pela ideia obcecante do olhar que fere, do olhar que destrói, que abre o corpo destituído de qualquer espiritualidade , lhe expõe o sangue e as vísceras, os ossos, a corrente sanguínea, o corpo que está pendurado no mundo como uma carcaça num talho.
Poucos poetas manejaram tão corajosamente as palavras como destruidoras das fronteiras entre o interior e o exterior do corpo e do espírito. Excessivo, dirão alguns, este corpo que é simultaneamente o Eu e o Universo, não cessa de crescer, de se expandir, nada o contem. Através da sua poesia, Nava procura ir ao extremo do corpo e do pensamento, superar as fronteiras que a linguagem nos impõe, tocar as regiões mais recônditas e impensadas da existência, torná-las visíveis, iluminá-las. Talvez por isso a poesia de Nava se aproxime tanto da pintura, sobretudo da pintura de Francis Bacon. E no entanto como poderia Bacon pintar um “azul a pique” ou “o sangue a fazer corpo com a manhã”?
 |
Luís Miguel de Oliveira Perry Nava
(início dos anos 80) |
Silvina Rodrigues Lopes, num ensaio escrito em 1997, nota logo a importância do tato como o mais importante dos sentidos no universo deste poeta, aquele que aglutina os outros e permite a criação dessas metáforas, contradições, jogos de forças que atiram o pensamento do leitor para fora da sua orbita: “Agora que escurece, impregnam-me e carne os sucos da memória”. O olhar de Nava assume sempre o duplo papel de autopsiador e autopsiado. Afastando-se de um desejo figurativo do mundo ou reflexão sobre o Eu, Luís Miguel Nava quer captar as suas forças, os seus fluxos, as suas intensidades.
Só um espelho assim saído há pouco tempo das entranhas de um ser vivo se desenha a nossa verdadeira imagem”. (Matadouro, 1989)
Quando morreu, apesar da solidão e desânimo que a vida em Bruxelas lhe provocava e do seu constante flirt com a morte, o poeta continuava cheio de planos para o futuro. A sua paixão pelo escritor Manuel Teixeira Gomes desejava convertê-la em documentário e já tinha até apresentado um projeto à então Secretaria de Estado da Cultura, estava a aprender árabe e planeava adotar Rashid, uma criança que conhecera em Essauira, Marrocos, além do romance iniciado O Livro de Samuel que começa assim:
“Paredes de um branco meio entrincheirado no sono, gastas pelo sonho de quem exaustivamente as sonhasse…”
Joana Emídio Marques
http://observador.pt/2017/09/29/quem-matou-o-poeta-luis-miguel-nava/
Poderá
gostar também de:
-
- “A coroação das vísceras.
Representações do avesso na poesia de Luís Miguel Nava.”, Carlos
Mendes de Sousa, in Relâmpago n.º 1,
julho de 2008
- “A epifania do corpo amoroso na
primeira poesia de Luís Miguel Nava”, Alexandre Bonafim Felizardo. Convergência Lusíada, v. 1,
pp. 19-31, 2015.
- A Fala do
Corpo em Luiza Neto Jorge e Luís Miguel Nava, Susana Maria Roque
Bravo. Universidade Nova de Lisboa – FCSH, outubro de 2012
- A poesia de
Luís Miguel Nava enquanto secreta religião, Aliderson Cardoso De Jesus. Faculdade de Letras, da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, 2010
- A
poética de Luís Miguel Nava: vem sempre à pele o que a memória carregou, Carla da Silva Miguelote. Niterói,
Universidade Federal Fluminense – Centro de Estudos Gerais – Instituto de
Letras, março de 2006
- “As vísceras do Vulcão. O Corpo Pleno e
o Ver Visceral na poesia de Luís Miguel Nava”, Rui Matoso,
http://grupolusofona.academia.edu/ruimatoso, 2001
- Corpo é paisagem - Dossiê Luís Miguel
Nava. Belo Horizonte, Tamanha
Poesia, Vol. 1, n.º 2, julho-dezembro de 2016
- “De como O grito de Luís Miguel Nava discute o valor da escrita”,
Alilderson de Jesus. In: ABRIL – Revista do Núcleo de Estudos de Literatura
Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 3, n° 4, Abril de 2010
- Desentranhando
desejos e identidades: Uma leitura queer de Luís Miguel Nava,
Senei Ferreira Sales, Universidade de São Paulo, 2015
- Deserto
excessivo: convivência de múltiplos em António Ramos Rosa, Carlos de Oliveira e
Luís Miguel Nava, Aline
Duque Erthal. Niterói, Universidade
Federal Fluminense - Instituto de Letras, março de 2017
- “Duas qualidades de movimento a partir
do corpo em Luís Miguel Nava – a leitura no prazer e a erótica do poema”,
Erica Zingano. In Forma Breve n.º 7, 2009
- “Escrever com sangue”, Rosa Maria Martelo
- Explosão
de imagens no livro PELÍCULAS, de Luís Miguel Nava, Nádia
Rodrigues dos Santos. ARARAQUARA – S.P., Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Faculdade de
Ciências e Letras, 2015
- “Luís Miguel Nava e o espaço do corpo
em O Céu Sob as Entranhas”, Moisés Ferreira. In: Revista
eletrônica de crítica e teoria de literaturas, PPG-LET-UFRGS – Porto Alegre –
Vol. 05 N.º 01, janeiro/junho de 2009
- “Luís Miguel Nava ou do corpo como
inscrição radical”, Maria João Cantinho.
In https://mjcantinho.com, 2015-07-17
- “Luís Miguel Nava ou o Modernismo Tardio de um Discurso Crítico”, Osvaldo Manuel Silvestre. In: Relâmpago,
nº 1, 1997, pp. 125-143
- “Luís Miguel Nava: a glória e a ruína
do corpo”, Luis Maffei. In: Textura,
n.º 17, janeiro/junho de 2008
- “Luís Miguel Nava: Até à raiz da alma”, António
Manuel Ferreira. In: in Diagonais
das Letras Portuguesas Contemporâneas, Aveiro, Fundação João Jacinto de
Magalhães, 1996, p. 130.
- “Luís Miguel Nava: o corpo como
inscrição do real ou o corpo radical”, Maria João Cantinho. In: https://www.academia.edu
- “O antibucolismo em Luís Miguel Nava”, Alilderson Cardoso de Jesus. In: Revista Garrafa, v. 18, 2009
- “O corpo-escrito de Luís Miguel Nava”,
Danilo
Bueno. In: Vivência n.º 36, 2011
- “O estranho mundo de Nava”,
Luís Miguel Queirós. In: Público, 2002-05-18
- “O nó
de pensamento de Luís Miguel Nava: cenas, alegorias, corpos e memórias”,
Sandro Ornellas. In: Crítica Cultural, vol.
5, n.º 1, julho de 2010
- “Rebentação de imagens: tensão entre
corpo & espaço na poética de Luís Miguel Nava”, Leonardo Morais.
In: Germina – revista de literatura &
arte, março de 2015
- “Sob o signo da interdição: aspectos do
homoerotismo na poesia de Luís Miguel Nava”, Sinei
Ferreira Sales. In: Anais do SILEL,
vol. 3, n.º 1. Uberlândia: EDUFU, 2013
- “Uma estrada que levasse ao mar”, crónica
de Eduardo Prado Coelho para o suplemento Leituras do
jornal Público. Sábado, 20 de maio de 1995.
“Luís
Miguel Nava (1957-1995)”, José Carreiro. Folha de Poesia, 2017-09-29 <https://folhadepoesia.blogspot.com/2017/09/luis-miguel-nava-1957-1995.html>









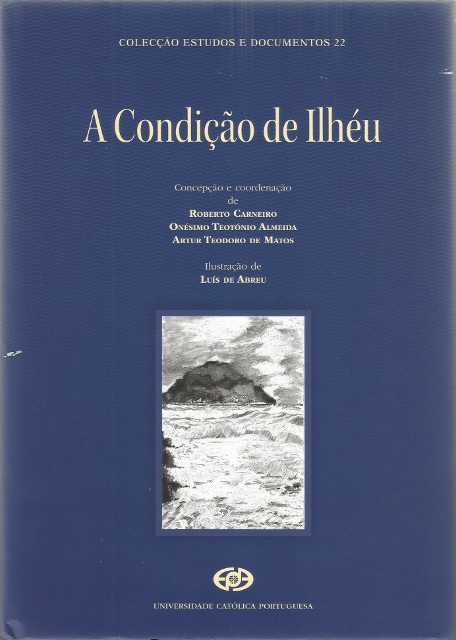


,%20Urbano%20Bettencourt,%202022.jpg)





